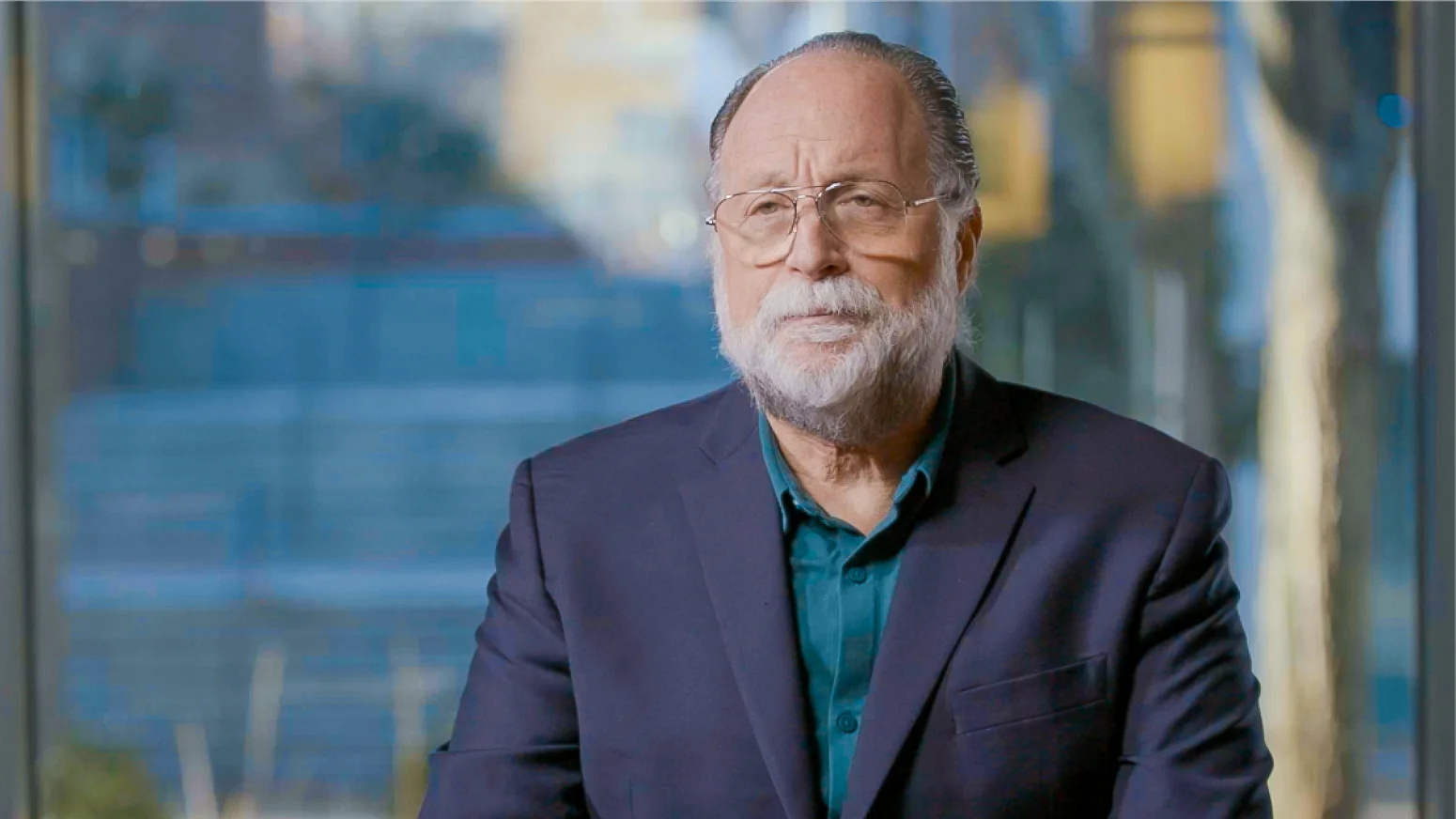
Ricardo Hausmann
Doutor em Economia pela Cornell University. É diretor do Center for International Development (CID) na Harvard University e professor Rafik Hariri de Prática de Economia Política Internacional na Harvard Kennedy School. Também é fundador e diretor do Growth Lab de Harvard. Atuou como o primeiro economista-chefe do Banco Interamericano de Desenvolvimento, onde criou o Departamento de Pesquisa. Foi ministro do Planejamento da Venezuela e membro do Conselho do Banco Central da Venezuela.
Entrevista
P./ A América Latina e o Caribe progrediram em seu desenvolvimento, mas o processo ainda está incompleto porque os níveis de pobreza e desigualdade continuam altos, assim como os de renda per capita. Como o senhor avalia o progresso e os desafios pendentes em termos de crescimento e inclusão social na região?
Bem, eu diria, em primeiro lugar, que houve progresso na região, mas menos do que nos países que representam a fronteira tecnológica, como os EUA e os países de alta renda. Na última década, a diferença de renda em relação aos países mais ricos tem aumentado, embora a tenhamos reduzido em muitas outras áreas. Por exemplo, em termos de educação, fertilidade, número de filhos que as mulheres têm, educação das mulheres e sua participação na força de trabalho, expectativa de vida, população que pensa em trabalhar como porcentagem da população total. Em outras palavras, fechamos muitas lacunas em muitas áreas, mas não na renda per capita. Isso, em minha opinião, reflete o fato de que aumentamos nossa defasagem tecnológica. Estamos ficando para trás em termos de tecnologia. O mundo está inventando tecnologia mais rapidamente do que somos capazes de adaptá-la, adotá-la e absorvê-la. E isso mostra que as diferenças de renda per capita com o mundo desenvolvido estão aumentando.
P./ Falar sobre desenvolvimento sustentável, uma das questões que está no topo da agenda, implica que também temos de falar sobre crescimento econômico, inclusão social, proteção do meio ambiente, da natureza, e esses são objetivos que apresentam muitas tensões, mas também muitas sinergias. Quais são as áreas de política mais promissoras para aproveitar as sinergias do desenvolvimento sustentável?
O desenvolvimento sustentável tem muitas arestas. Há questões de sustentabilidade simplesmente em termos do desenvolvimento em si, da possibilidade de crises e insustentabilidades macrofinanceiras, digamos que há questões de sustentabilidade ambiental local, mas de forma mais global. Assim, por exemplo, grande parte do foco no momento é a mudança climática. Como podemos tornar o desenvolvimento global consistente com um clima mais estável, o que implica fazer a transição energética para o que chamamos de net zero.
Agora, a forma como a agenda de desenvolvimento tem sido conduzida por meio dos acordos de Paris, por meio dos bancos multilaterais de desenvolvimento, é tentar fazer com que todos os países se concentrem na redução de sua pegada de carbono. Porque se cada um reduzir a sua, o mundo reduzirá sua pegada e isso nos ajudará com as mudanças climáticas. Isso fez com que os países se comprometessem a fazer coisas internamente para reduzir sua pegada de carbono. Acho que essa forma de apresentar o problema é profundamente incompleta e inconveniente, porque a atmosfera é uma só. O que importa é o que acontece com toda a atmosfera, não o que meu país emite na atmosfera.
O foco deve ser o que o meu país pode fazer para reduzir, não as minhas emissões, mas as emissões globais. Se o problema é o que meu país pode fazer para reduzir as emissões globais, devo me fazer duas perguntas: de que coisas um mundo que deseja descarbonizar vai precisar e quais dessas coisas posso fabricar, produzir em meu país e vender ao mundo para que ele possa descarbonizar. E há um conjunto muito importante de cadeias de valor que terá de crescer muito rapidamente em um mundo que deseja descarbonizar. E a questão é como a América Latina pode participar dessas cadeias de valor.
Para que o mundo se descarbonize, será necessário eletrificar tudo o que for possível e produzir essa eletricidade de forma limpa, como no transporte com veículos elétricos. Portanto, há muitas áreas de produção envolvidas na criação dos elementos que permitiriam que o mundo se descarbonizasse. Muitas delas exigem minerais essenciais. A América Latina é potencialmente rica nesses minerais essenciais. A Bolívia tem as maiores reservas de lítio do mundo; o Chile e a Argentina também têm reservas gigantescas de lítio, e as reservas de cobre da América Latina são enormes. A região tem todo um papel a desempenhar para facilitar a descarbonização do mundo.
A segunda questão importante é que um mundo que deseja descarbonizar vai querer usar o sol, o vento e os recursos hídricos, mas essa energia verde é muito difícil de transportar, praticamente impossível. E isso tem de levar o mundo a tentar localizar atividades com uso intensivo de energia em locais que tenham acesso a energia verde barata. Bem, a América Latina tem o deserto do Atacama, que é o melhor lugar do mundo em termos de radiação solar, e muitos lugares com recursos eólicos muito atraentes e muito potencial hídrico.
Portanto, a questão é como a América Latina pode desenvolver suas fontes de energia verde, não para reduzir sua pegada de carbono, que na verdade não é tão grande, mas para que o mundo possa reduzir a sua própria pegada, facilitando a realocação de atividades intensivas em energia que atualmente são realizadas de forma suja, para que possam se mudar para a América Latina e fazê-lo de forma limpa. Acredito que, nesse sentido, se repensarmos a mudança climática e a agenda de descarbonização a partir dessa perspectiva, a América Latina tem um papel muito importante a desempenhar, produzindo o que o mundo precisará para poder se descarbonizar. E quanto mais o mundo quiser se descarbonizar, mais venderemos, mais cresceremos e mais ganharemos.
P./ O senhor, em particular, contribuiu significativamente para o conceito de complexidade econômica. Que papel o senhor acha que a diversificação econômica desempenha na promoção do crescimento sustentado em nossos países da América Latina e do Caribe?
O ativo mais importante que uma sociedade tem é o conhecimento produtivo com o qual ela trabalha, que tem componentes facilmente acessíveis, ou seja, o conhecimento que está incorporado em ferramentas e materiais: você traz um recipiente e lá está o conhecimento cristalizado nessas coisas. O conhecimento codificado em receitas, fórmulas, algoritmos, manuais, você o coloca na Internet e o transmite, e todos têm acesso a ele. Mas você também precisa de conhecimento tácito, que só pode ser localizado no cérebro, o que chamamos de know-how. E quanto é o know-how de uma sociedade? Depende não apenas ou principalmente de quanto know-how as pessoas dessa sociedade têm em média, mas de quão diferente é o conhecimento das diferentes pessoas. Não se trata de quantos anos de escolaridade o país tem em média ou de quanto eles obtiveram no teste PISA, mas de quão diferente é o know-how de uma pessoa em relação ao de outra.
Para administrar uma empresa moderna no mundo atual, é preciso ter conhecimentos sobre contabilidade, finanças, marketing, produção, gestão de recursos humanos, tributação, contratos, compras, enfim, uma série de coisas. Isso não cabe em uma única cabeça, mas em uma equipe com conhecimentos diferenciados, onde juntos podem fazer coisas. Portanto, o que a complexidade econômica tenta medir é o quanto uma sociedade sabe. E parte da maneira como o método funciona é que uma sociedade sabe mais, sabe como fazer o que faz. Portanto, posso observar o que você faz para inferir o quanto você sabe fazer, porque para fazer algo é preciso saber como fazê-lo.
E quando olhamos para a América Latina desse ponto de vista, vemos que ela tem baixos níveis de conhecimento produtivo e operacional. Isso se reflete no fato de que ela não sabe fazer muitas coisas, não é muito diversificada. E as coisas que ela sabe fazer não requerem muito conhecimento, são de complexidade relativamente baixa. Não é necessário ter equipes humanas muito diversificadas, com conhecimentos muito diferentes, para poder abranger todo o conhecimento que esse produto exige. Não estamos fazendo coisas muito complexas. E isso se reflete no fato de que não apenas temos índices de complexidade relativamente baixos, mas nossa diferença de complexidade em relação aos países avançados tem aumentado.
Portanto, eu diria que, sim, o desenvolvimento produtivo da região depende fundamentalmente de nossa capacidade de absorver conhecimento, de colocá-lo em diferentes cérebros e assim por diante. Essa diversidade de conhecimento nos permite fazer mais coisas, diversificar a produção e avançar para produtos mais complexos que exigem mais conhecimento.
P./ Como os países podem superar essa dependência de alguns produtos primários e diversificar efetivamente suas economias para promover a integração e a participação nas cadeias globais de valor?
Bem, o importante aqui é aproveitar o que você tem. Em outras palavras, descobrimos que os países não passam da produção de café para a produção de aviões de uma só vez. De repente, eles passam da produção de café para a produção de determinados produtos manufaturados. Por exemplo, se observarmos a forma como a China, a Tailândia e a Coreia se desenvolveram, eles passaram da agricultura para o vestuário e os têxteis, e daí para a montagem de eletrônicos, para a montagem de carros e para outras coisas mais complexas e mais complicadas.
Na América Latina, houve um processo, especialmente na América do Sul, de reprimarização. Muitos dos setores em que estávamos mais ou menos protegidos pela substituição de importações se saíram relativamente mal com a liberalização econômica. E o que tem crescido é a área mais primária, a ponto de, por exemplo, a região exportar cobre para a China, com 30% de concentrado de cobre. O restante do processo de refino e as outras cadeias de valor são feitos na China. É uma boa pergunta por que isso está acontecendo. Acho que isso se deve, em parte, ao fato de não termos prestado atenção suficiente às falhas de mercado que ocorrem no processo de diversificação.
Há muitos problemas de coordenação que impedem a diversificação produtiva. A base, quero dizer, é que se você for diversificar, terá de começar a fazer coisas que não fazia antes. Mas para fazer as coisas, você precisa saber como fazê-las. Normalmente, não se sabe como fazer o que não se faz. Então, como você começa a fazer o que não fazia antes? Para fabricar relógios, você precisa de relojoeiros, mas onde conseguir relojoeiros em um país que não fabrica relógios? E como se tornar um relojoeiro em um país que não fabrica relógios? Portanto, esse problema do ovo e da galinha tende a ser resolvido mudando-se para atividades que exigem algum conhecimento novo, mas não muito, de modo que não haja muitos problemas do tipo ovo e galinha para resolver.
Uma das coisas que facilitam a diversificação produtiva é a imigração. Porque se eu não sei fazer relógios, bem, eu trago um relojoeiro da Suíça e, de repente, ele treina outros relojoeiros e, depois de uma década, haverá muitos relojoeiros locais. Mas isso começa com um processo de absorção de conhecimento, trazendo pessoas para cá. Temos políticas de migração incrivelmente restritivas e particularmente tendenciosas em relação a pessoas altamente qualificadas. Poderíamos imaginar que a tendência é impedir a entrada de pessoas pouco qualificadas, mas a verdade é que não podemos fazê-lo. Não temos os sistemas necessários para impedir a entrada de pessoas pouco qualificadas. Não temos sistemas para impedir que pessoas pouco qualificadas entrem em nossos países. Mas temos leis que proíbem as empresas formais modernas de contratar estrangeiros altamente qualificados. Há restrições quanto à porcentagem de estrangeiros que podem trabalhar em uma empresa. Há restrições à prática profissional. Em muitos países, para ser um funcionário público, você precisa ser um cidadão. Isso inclui professores universitários, portanto, para ser professor universitário, é preciso ser cidadão. E se não houver cidadãos relojoeiros, não poderá haver professores relojoeiros como cidadãos. Não se pode ter professores estrangeiros de relojoaria treinando cidadãos.
Muito do que fazemos restringe a entrada de conhecimento. Gosto de salientar que o motivo pelo qual o Vale do Silício, na Califórnia, é tão bem-sucedido não se deve à qualidade de seu sistema educacional ou de suas universidades. Se observarmos os trabalhadores das áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática do Vale do Silício, 54% são estrangeiros, embora a Califórnia seja um estado com 40 milhões de habitantes. É o tamanho de um país latino-americano relativamente grande. Entretanto, apesar dessa grande população, 54% são estrangeiros e os outros 46% não são todos californianos. Apenas 18% são californianos, o restante vem de outras partes dos EUA. Portanto, o segredo do Vale do Silício não é sua capacidade de gerar talentos, mas de atraí-los. E a América Latina tem competido muito mal no mercado de talentos.
P./ A inovação é, sem dúvida, um dos fatores que mais contribuem para o crescimento sustentado. Qual é a importância das diferenças na inovação para explicar a lacuna de produtividade entre a América Latina e o Caribe e as regiões mais desenvolvidas do mundo?
Bem, há uma área em que somos ruins e outra em que somos péssimos. Onde somos ruins é na área em que o mundo inventa coisas e nós temos de nos adaptar e adotá-las. Simplesmente copiando a tecnologia de outros e desenvolvendo a capacidade de fazê-lo. Nesse aspecto, com poucas exceções, como México, Costa Rica e República Dominicana, houve pouquíssima transformação produtiva em direção a coisas novas que não são novas para o mundo, mas são novas para nós. Se quisermos entrar em equipamentos médicos, em produtos de maior escala, não estamos nos saindo bem nessa área. Esse é um aspecto da inovação, não na fronteira do conhecimento, mas da inovação local, no sentido de que você começa a fazer coisas que não fazia antes, que foram desenvolvidas no mundo, mas não em seu país. É aí que estamos errados.
O que é ruim é em termos de criação de coisas novas. Na América Latina, estamos em cerca de 70% dos níveis de educação superior dos EUA e, partindo de 10% a 15%, reduzimos muito a lacuna de graduação universitária. Isso significa que nossas universidades, por exemplo, em países como o Chile e a Argentina, estão acima de 100% da taxa de participação no ensino superior dos EUA, ou seja, elas fecharam completamente a lacuna e, de fato, agora estão à frente. Apesar disso, nesses países, a produção científica é cerca de 20-30% da produção dos EUA, ou seja, estamos fechando a lacuna em termos de educação universitária, mas muito mais lentamente em termos de produção de artigos científicos.
Em termos de lacuna de produção de patentes que refletem essas inovações para uso na produção, estamos parados em 2% dos EUA e com tendência de queda. Isso significa que temos os acadêmicos, estamos fazendo algum progresso na ciência, mas muito pouco em termos de coisas aplicadas à produção refletidas no termo de patentes. E isso, para mim, mostra que não conseguimos ter universidades que façam mais do que apenas ensinar. Nossas universidades não estão realmente integradas às necessidades de conhecimento de nosso aparato produtivo. Elas estão meio divorciadas e com uma cultura que nem sequer as faz querer se integrar aos problemas produtivos de suas sociedades. E temos uma grande tarefa pela frente. Acredito que essa é uma das questões que ainda não foram abordadas em nossa região.
P./ Em sua opinião, quais são as principais barreiras à pesquisa e ao desenvolvimento, tanto no setor privado quanto no público, e à adoção de tecnologia em nossa região?
Há um problema aqui também, um pouco como o problema do ovo e da galinha, se observarmos os gastos com investimentos em pesquisa e desenvolvimento das empresas latino-americanas e os compararmos com empresas de outras regiões do mundo – EUA, Israel, Coreia, etc. -. EUA, Israel, Coreia, etc. -. As empresas privadas modernas da América Latina gastam menos de um décimo do que suas contrapartes em outros países em investimento e desenvolvimento. Aqui, as empresas não gastam em pesquisa e desenvolvimento.
Agora, isso não é resolvido dizendo que eles deveriam gastar mais em pesquisa e desenvolvimento, porque, de repente, eles não o fazem porque não acreditam que exista uma caixa preta na qual você coloca dinheiro de um lado e a inovação sai do outro. Como eles não acreditam que essa caixa preta exista, não faz sentido gastar dinheiro em inovação, em pesquisa e desenvolvimento. Porque se você gastar o dinheiro e as castanhas não saírem do fogo, você não obterá o resultado desse investimento. É por isso que há países que têm essa caixa preta, que transforma o dinheiro em inovação, e então, do resto do mundo, eles vêm para gastar em pesquisa e desenvolvimento, investimentos em pesquisa e desenvolvimento para usar essa caixa preta.
Temos empresas que não gastam em pesquisa e desenvolvimento porque não temos a caixa preta que transforma dinheiro em inovação. E não a temos, em parte, porque nosso sistema universitário tem se concentrado apenas no ensino e não em se integrar ao aparato produtivo. Para isso, deve haver um equilíbrio, em que as empresas gastem em pesquisa e desenvolvimento e as universidades e centros de pesquisa recebam o dinheiro dessas despesas e o transformem em inovação. Essa estrutura, que está por trás da inovação no resto do mundo, não foi desenvolvida na América Latina. E minha recomendação seria que quebrássemos a cabeça para ver como podemos sair desse problema, da galinha e do ovo, recriando esses circuitos de inovação em nossa região.
P./ Hoje, vemos uma situação complexa devido aos conflitos armados, à guerra comercial entre os EUA e a China, à política ambiental, enfim, e tudo isso, sem dúvida, influenciou o comércio e a configuração das cadeias globais de valor. Qual é a sua avaliação da situação na América Latina e no Caribe e que espaços estratégicos de resposta você vê no atual contexto global?
Essa é uma pergunta importante. E há muitas questões sobre as quais poderíamos falar. Na verdade, a rivalidade está crescendo entre os EUA e a China, entre, digamos, a zona democrática e a zona mais autocrática. A América Latina está localizada na zona democrática. Mas a América do Sul, em particular, tem a China como seu principal parceiro comercial. Os minerais que saem do Peru, do Chile, do Brasil, a soja e os produtos agrícolas que saem do Brasil, da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, etc., vão principalmente para a China.
Portanto, a América Latina tem essa dinâmica que cria uma situação complicada, em que, por um lado, há tendências que tentam mantê-la, digamos, dentro do mundo ocidental. Por outro lado, a dinâmica econômica faz com que eles aumentem seu relacionamento com a China. Acho que, em parte, isso cria dificuldades com as quais os diplomatas latino-americanos têm de lidar, mas também abre oportunidades. O mundo está muito, muito preocupado com a concentração do processamento mineral na China. Isso deve nos levar a tentar desenvolver alguma capacidade de processar nossos minerais, além do que estamos fazendo. Promover conhecimento e tecnologias para que surja uma vantagem comparativa nessas atividades que não temos hoje e que, de repente, em um mundo que quer descarbonizar, possamos desenvolvê-las.
A América Latina tem muita energia verde, barata e limpa, que, se for usada para processar nossos minerais, nos levará a ter produtos com menor teor de carbono, o que, em um mundo que quer descarbonizar, deveria receber um prêmio verde. Esse é um conjunto de oportunidades. Por outro lado, o que está acontecendo no mundo é que se tem falado muito sobre a desglobalização, mas isso significa que, de certa forma, há menos comércio internacional de bens, mas cada vez mais de serviços. E as novas tecnologias tornaram possível a deslocalização de certas atividades produtivas.
Por exemplo, com a covid-19, descobrimos que o que fazíamos no escritório pode ser feito em casa, e depois percebemos que o que pode ser feito em casa pode ser feito em qualquer outro lugar. Portanto, as coisas que antes precisavam ser feitas com pessoas indo ao escritório, agora não precisam nem estar na mesma cidade. Isso está levando a um enorme aumento no comércio de serviços, especialmente serviços comerciais, e abre um enorme potencial de crescimento para a América Latina, porque se os serviços comerciais puderem ser feitos remotamente, você poderá fazer coisas na América Latina que servem a tarefas produtivas em cadeias de valor em países ricos do resto do mundo. Por exemplo, me disseram que em Buenos Aires, a Accenture, que é uma consultoria de negócios, tem 25.000 funcionários, principalmente para o mercado americano. Isso nos dá uma ideia do escopo, do tamanho que esse comércio de serviços empresariais pode ter, dada a enorme diferença nos níveis de salários nominais entre, digamos, os EUA e a América Latina.
Há uma possibilidade de arbitragem aqui. Se conseguirmos gerar produtividade no desenvolvimento dessas tarefas, poderemos entrar em mercados muito interessantes, onde o fato de a América Latina ser uma região relativamente remota, em outras palavras, quando seus produtos vão para os mercados de destino, eles viajam, em média, muito mais longe do que os do resto do mundo. Portanto, estamos relativamente distantes em termos de mercadorias, porque em termos desses serviços comerciais, o fuso horário é mais importante, é mais importante estar, compartilhar um horário das nove às cinco com outro país do que quantos quilômetros de distância você está. Isso possibilita que a América Latina se integre de norte a sul em termos de fornecimento de serviços empresariais que podem ser usados por nossa crescente população com formação universitária. Acho que essa é uma área importante a ser explorada.
P./ O que você vê como os três principais desafios para a região nas próximas décadas, considerando os problemas de longa data da região e os desafios e oportunidades associados, por exemplo, às mudanças climáticas e à transformação digital? Em outras palavras, que oportunidades você também vê no horizonte e de que fatores favoráveis precisamos para capitalizar essas oportunidades?
Vou mencionar algumas questões em que acho que não estamos nos saindo bem. A primeira é o crime, ou seja, a violência, o crime organizado, a insegurança pessoal, a segurança do cidadão. Essa área requer capacidades estatais que não estão à altura da tarefa. Isso se deve à falta de prevenção, acusação e capacidade judicial. Há várias áreas no setor público em que não estamos indo bem e onde o crime organizado está se tornando mais complexo, com mais capacidades organizacionais, para corromper todo o aparato estatal. Portanto, há um grande desafio nessa área.
Outro grande problema é o desenvolvimento urbano. Temos cidades que são bastante inabitáveis. As pessoas nas cidades têm alguns dos tempos de deslocamento mais longos do mundo. Elas gastam duas ou três horas para ir ao trabalho. E isso reflete a estrutura urbana, o uso do espaço, os sistemas de transporte para conectar um ponto a outro, o que leva a essas dificuldades de acesso ao trabalho. Isso, por sua vez, leva a uma alta informalidade. Se você observar, por exemplo, a localização geográfica no espaço das empresas formais e comparar com o emprego informal, perceberá que o emprego informal está muito mais disperso nas cidades. E isso é um reflexo do fato de que as pessoas acham tão caro ir, se deslocar para um emprego formal, que aceitam um emprego de produtividade muito menor no setor informal para economizar esses custos de transporte.
Acho que é muito importante repensarmos nossas cidades, nosso desenvolvimento urbano, nossos sistemas de transporte e nosso desenvolvimento de habitação social. Nossa habitação social tem se concentrado em atingir metas para o número de casas que queremos construir, e não em sua localização e inserção em um mercado de trabalho potencial. Portanto, temos sérios problemas na maneira como pensamos sobre nosso desenvolvimento urbano.
E também temos sérios problemas em nossa política de inovação e desenvolvimento tecnológico. Um dos melhores países da América Latina em termos de desenvolvimento é o Chile. Ele tem muito lítio, é o segundo maior produtor do mundo, mas não tem um centro de pesquisa de lítio. Não tem desenvolvimento tecnológico para melhorar a extração direta, em vez de usar o sistema tradicional de evaporação da salmoura onde o metal está localizado. O Chile tem o deserto de Atacama, o melhor lugar do mundo para produzir energia solar, mas não tem nenhuma contribuição para a tecnologia, os materiais e a energia solar.
Quando obtivemos sucesso, como no caso da semeadura direta na Argentina, onde, com toda a tecnologia, com sementes geneticamente modificadas para serem resistentes a herbicidas, elas nos permitiram um pacote tecnológico que deu origem a um boom da soja – soya, como dizemos na Venezuela – e a ampliação da fronteira agrícola para áreas onde antes havia criação de gado. Em suma, houve uma revolução na Argentina, no Brasil e no Uruguai, associada a uma inovação tecnológica muito latino-americana. Estamos carentes de exemplos como esses, poderíamos ter muitos mais, mas não os temos.
Por fim, gostaria de dizer algo. Quando pensamos no meio ambiente, acho que a América Latina pecou por ser um pouco extremista em suas preocupações com a proteção. Há um crescente movimento contra a mineração: vimos o que aconteceu recentemente no Panamá, estamos vendo a impossibilidade de desenvolvimentos de mineração na Colômbia, no Peru, no Chile. Quero dizer à América Latina que não podemos salvar a atmosfera sem arranhar a terra e que temos uma grande dificuldade em equilibrar a proteção ambiental global com a proteção local. Acho que agora estamos em um equilíbrio em que, para o bem ou para o mal, o país que tem as maiores reservas de lítio do mundo, a Bolívia, hoje produz zero lítio ou praticamente zero, e isso não é porque o recurso natural não existe, mas simplesmente porque não desenvolvemos as estruturas legais e econômicas para o desenvolvimento adequado de nossos recursos. Essa também é uma área importante para discussão.
P./ Que papel você acha que organizações como o CAF – Banco de Desenvolvimento da América Latina e do Caribe – desempenham, por exemplo, na promoção do desenvolvimento na região, considerando a heterogeneidade de nossos países?
De fato, os bancos de desenvolvimento têm um papel muito importante a desempenhar, muito além do financeiro. Eles são o lugar onde aprendemos uns com os outros, onde, de repente, um país quer fazer um projeto em uma nova área, por exemplo, o financiamento de pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico, e isso leva o banco a aprender no processo de financiamento desses tipos de atividades. E, uma vez que aprende, o banco pode passar esse conhecimento adiante para que outros países possam explorar esses mesmos caminhos. Acho que é muito importante saber o que o banco quer aprender a fazer para que outros países possam tirar proveito desse conhecimento. Parece-me, por exemplo, que em termos do que gosto de chamar de crescimento verde, os bancos ficaram muito presos à visão de como financiar projetos para reduzir a pegada ambiental local, a pegada de carbono local, e não em como inserir os países latino-americanos nas cadeias globais de valor de produtos verdes, equipamentos verdes e assim por diante.
Por exemplo, no campo da criminalidade, quando trabalhei nos anos 90 no Banco Interamericano de Desenvolvimento, não podíamos financiar prisões. Temos certas limitações para entrar em questões mais sérias de violência. Agora, como a América Latina é o lugar do mundo com as maiores taxas de homicídio per capita, temos de saber como controlar a violência, e acho que é muito importante que os bancos aprendam com isso, desenvolvendo projetos e concedendo empréstimos para gerar e transmitir conhecimento. Gerar conhecimento por meio de suas operações, obviamente também por meio de seus esforços locais de pesquisa.
Mas o que lhe dá vantagem comparativa em termos de aprendizado é o fato de que não é que o banco vá se tornar uma universidade, mas que ele tem a possibilidade de aprender com operações que não são feitas em uma universidade. Aqui, acho que há mais de 20 ou 30 anos existe uma aspiração de transformar os bancos de desenvolvimento em bancos de conhecimento. E, embora estejamos progredindo nessa área, ainda há muito caminho a percorrer.